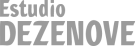|
Marcelo Brantes é um sobrevivente. Primeiro, do atentado de 11 de setembro, quando morava em Nova York e pôde viver de perto o drama que assombrou o ocidente. Depois, já de retorno ao Brasil, testemunhou a tragédia das chuvas e dos subseqüentes deslizamentos que em janeiro deste ano assolou a Região Serrana do Rio, particularmente Nova Friburgo, onde o artista mantém seu ateliê ou o que sobrou dele: a casa que vinha construindo como moradia e local de trabalho foi invadida pela enxurrada e, com ela, uma avalanche de lama. Enterrada parcialmente, transformou-se subitamente em uma ruína contemporânea. A mudança radical da paisagem deixou um rastro de desolamento, afetando todo seu entorno. Não seria estranho que uma obra nascida de tal provação pudesse sussurrar aos ouvidos um murmúrio surdo, um lamento, que secretamente nos fala da morte, dos processos de putrefação e, surpreendentemente, de seu contrário, da vida e de suas incansáveis estratégias de renascimento, filtragem e germinação — da arte como cura, enfim. Marcado pela obsessão dos dias e das horas, pelos inúmeros cigarros fumados, o seu obrar revela a obstinação dos apaixonados. Secretamente nos fala do delicado equilíbrio em que consiste a beleza, do quanto é frágil respirar e manter o pulso das convicções enquanto se espera a própria vida, em forma de arte, renascer das cinzas de tantos cigarros fumados. Deles nada se perde, tudo se transforma em poesia; tudo se cria. Das cinzas apagadas e frias, pacientemente recolhidas em potes transparentes que, em seguida, são arranjados nas prateleiras de uma estante em aço, como as que vemos nos laboratório de mineralogia, Marcelo nos faz contemplar finíssimas camadas aveludadas que, variando do negro profundo ao prata brilhante, nos lembram amostras minerais recolhidas de substratos geológicos e que durante milênios foram se sedimentando em estruturas aluviais. As sedas queimadas e manchadas pelo marrom do tabaco, organizadas em tons e surtons, rearranjam-se em uma extensa superfície plana. Revelam manchas sutis que sugerem de relance as marcas de um corpo ou vapores de nuvens, poeira e fumaça, na profusão de uma explosão. Em uma visita guiada, o artista nos conduz ao que sobrou de seu ateliê, ao que seria um salão. Sobre a parede de tijolos rústicos uma escultura/ instalação: um manto dependurado em um cabide, por sua vez fixado sobre uma superfície retangular e fria, cuja estrutura de metal, recoberta com placas de aço soldadas umas nas outras, contrastava com a delicadeza do tecido felpudo e macio: um feltro tramado em filtros de cigarros fumados durante a confecção da obra. Se o arejamento a que foi constantemente exposto já havia dissipado o cheiro forte, podíamos, no entanto, imaginar vivamente, e com certa náusea, o fedor que dele exalava anteriormente. Aquele manto — suave ao toque, repulsivo pelo material e pesado pelo caimento — lembrou-me uma carcaça desviscerada, a pele mole e lerda de um cordeiro com a qual os homens primitivos se aqueciam ou o sudário que nos conduziria através dos mundos. Há em seu fazer uma transformação que se opera entre a morte e a vida, um buraco negro que, sorvendo a poeira dissipada das estrelas, adensa-se em massa escura para explodir novamente em luz, matéria e energia. Olhando agora ao redor — ao longe, as montanhas escalavradas pelas voçorocas das enxurradas e, mais próximo, o vale soterrado, o riacho arregaçado — vemos uma gramínea fina e leve, um tapete de um verde vivo e viçoso que insiste em brotar da terra revirada; pequenos arbustos remendando as fendas, os pássaros celebrando, depois de tudo, a regeneração da paisagem, o redesenho de uma nova geografia para a vida. No intervalo ínfimo de purificação, entre a destruição e a regeneração, entre o encher e o esvaziar-se dos alvéolos, a obra de Marcelo, me parece, encontra sua força poética — DEUS É FILTRO! Luciano Vinhosa |
Estudio Dezenove | Travessa do Oriente 16A , Santa Teresa, Rio de Janeiro - Brasil T. (55) (21) 2232 6572