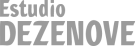|
Inventar o outro [notas para o futuro: fotografias] André Sheik, Brenda Cristina, Brenno de Castro, Daniela Alves, João de Albuquerque, Jonatas Martin Puga, Nanna Póssa, Verena Kael e Yago Toscano. curadoria Wilton Montenegro 3 de setembro a 2 de outubro de 2016 |
|
|
A fotografia, como o desenho, é uma arte sem voz. Se nenhuma palavra é dita, isso cria a dívida no espectador de fazer a imagem falar, contar uma história, dizer algo. Mas a foto não responde, ela abandona o espectador ao olhar que interpreta marcas e traços em busca dos fantasmas ausentes do discurso. Não há voz presente, ninguém, nada se pronuncia. Diferente de toda outra imagem, nela “a história não precede o discurso”, disse Jacques Derrida. O olhar está abandonado a si-próprio, defrontado com seu próprio ver. A fotografia é a única forma de expressão que pode ser absolutamente solitária, absolutamente em si. Por que não o desenho? Se acreditarmos em Matisse, uma linha precisa de outra que a acompanhe para tornar-se um desenho. A fotografia não. Busco uma dupla ilação: uma foto sozinha e uma acompanhada. Da solidão da imagem: ao olhar algo, ao fotografar algo, o que faço é uma enucleação. Recorto do mundo um fragmento, recorto do meu olho que vê um fragmento do mundo, dupla enucleação, ver é um ato de permanente enuclear. Num ato simultâneo, retiro do mundo um pedaço e aponho outro mundo ao mundo. Tudo é montagem. Esse gesto/olhar torna, assim, meu ato em uma invenção de mundos que se afastam ou se superpõem, metáfora da incerteza do universo em expansão ou contração. A fotografia, pois, não cria memórias, não registra passados, não é resíduo de nada, ela é apenas inventora de novas realidades. Em campo cego. O início deste escrito fala da diferença entre o som e o silêncio. O cinema é retórico, é um ato de fala. Não faço distinção entre 24 imagens em um segundo e uma imagem vista em 1/24 de segundo. Aqui, o que importa é o que se passa no campo cego, que fantasmas nos habitam, o que havia fora da imagem que me é apresentada, o que aconteceu antes da enucleação e porque ela me foi ofertada. Qual é o gênero da dádiva? Algo ocorre ante meu olhar cego e cegante que me inventa. Aqui, algo aponta para o futuro, não para um único caminho, não para um único futuro, mas como se fosse possível atender ao desejo, andar ao mesmo tempo em ambas as veredas do jardim dos caminhos que se bifurcam. Esta exposição aponta alguns dos caminhos para futuros possíveis da fotografia. Assim como o enquadramento na câmera fotográfica é uma enucleação, é ao mesmo tempo um estilhaço de um vaso quebrado e que é impossível de ser reconstituído; jamais voltará a ser aquele vaso, jamais voltará a ser aquele mundo. Um fragmento é uma visão parcial, não pode ser pensado como um panorama, jamais reconstituirá um todo. O recorte é apenas um corte. André Sheik, Brenno de Castro, Brenda Cristina, Daniela Alves, João de Albuquerque, Jonatas Martin Puga, Nana Possa, Verena Kael, Yago Toscano, artistas aqui expostos, têm em comum a impiedade. Todos fora de ordem, inscrevem no próprio corpo e no corpo do outro, do meu e do seu. Se inventam e inventam o outro. As imagens de uma, tanto podem lembrar a “Ofélia” de Julia Margaret Cameron, romantismo e morte, como um açougue goyesco. Ou medos dobrados sobre si revelando-se em pura invenção. E de outra, que se refaz diariamente na procura de seu antes. Há o que procura pela luz, como os insetos que morrem queimados ao se aproximarem do calor, embora faça, aqui e ali, um constante movimento de vai e vem em busca da sombra protetora – mas sombra é luz. A sedução e a morte estão inscritas na obra e no corpo, embora às vezes um choro transpareça emoções baratas, oferecem[-se] sem pena e pudor. Adiante, algo se revela (esta é a palavra apropriada), em uma busca desesperada pelo outro. Um homem chamou-se cavalo e se fez Adão kadmon. E dois se reinventaram em um. Aquele desesperou-se na imagem, levando-a à tensão de seu próprio desaparecimento, a ruína civilizatória quando afinal a selva retomar dos humanos sua primazia de selvagem. O que quis a dor de outro, na impossibilidade limitou-se a contemplar – doía não sentir a dor alheia, doía não doer. E no cujo outro é sua própria razão, a imagem se estilhaça. Tudo está dado. Em um texto que apresenta sua conversa com Derrida, Gerhard Richter diz que, “como a fotografia, a desconstrução concerne, entre outras coisas, a questões de presentação, tradução, techné, substituição, transferência, disseminação, repetição, interação, memória, inscrição, morte e luto. ” Mais acima, eu escrevi que a fotografia não é memória. Esta aparente contradição se resolve quando pensamos que a fotografia não carrega em si nada além de nosso desejo do que ela pode significar, ou seja, talvez mais que a memória, ela dá testemunho da falta. A ausência de um ente querido do qual nos resta apenas uma foto..., ora, não nos resta nada dele, só o esmaecimento da lembrança. Às vezes, quando estamos distraídos, dizemos ao ver uma foto: olha o fulano! ou, olha Paris! Mas uma fotografia é o que sempre foi, apenas uma fotografia, e é aí quando inventamos o outro, é aí que nos inventamos. Assim, resta da fotografia, o mudo testemunho da nossa perda de memória. Digo, portanto, que a fotografia, como tudo, é também um ato de perda, porém, mais que tudo, um ato de invenção de mundos. Wilton Montenegro, Rio de Janeiro, agosto de 2016 |