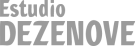julho 2017
|
Fotos Nilton Santolin
|
PASSAGEM (Ou o destino quanto origem)
Adolfo Montejo Navas
“O tempo passa quando a gente olha”
Philip Roth
No fundo, ninguém é absolutamente só, próprio, no sentido de ser ele mesmo, dono de si, e não se trata só de um eco ingênuo da teoria da evolução, senão da transformação, ou melhor, da metabolização da condição humana. Ou então da heteronímia, aquela maquinaria poética que pensou Fernando Pessoa para abrigar almas diferentes, para dar conta da diversidade do eu, de sua ficção. O trabalho identitário, portanto, faz parte cada vez mais da crise do sujeito do século XX e XXI, da cisão ontológica e espiritual que nos divide cotidianamente. De qualquer forma, sabemos que a arte e a pintura, historicamente, desenhariam suas linhas de atuação no território do autorretrato e nesse limiar a fotografia, posteriormente, herdaria essa tradição e a ampliaria. Nesse contexto crítico, Julio Castro vem a trazer a confluência de todo o exposto, com o uso ampliado da gravura, fotografia, pintura, não necessariamente nesta ordem, já que importa muito menos a origem quanto o destino, ou então, o destino quanto origem. De fato, o seu trabalho é uma ars combinatória que mexe com várias instâncias, a linhagem e o anonimato, a serialização e a magia, a memória e a assombração. Assim como com o jogo de significados que abriga a palavra autorretrato em seu interior ou a passagem da imagem através dos suportes-registros. Em efeito, a ideia de cruzar o trânsito dos rostos em retrato 3 x 4 (inicial e canonicamente como documento portátil) do pai do artista e dele mesmo, ganha dimensões e densidade e não só reporta certo calafrio visual quanto produz uma pregnância conceitual, na qual o rosto - a parte mais simbólica e porosa do corpo - se transveste de outro tempo, mais concretamente do tempo do outro, ainda que seja tão próximo e familiar, fruto da relação de ascendência/descendência. A confluência de características afins e não afins produz seu paradoxo em movimento, pois estamos vendo um retrato de retratos, um auto-retrato centrípeto, que se abisma para dentro – implode como pede o gênero quando não é blasé ou uma questão supérflua. Não obstante, assim como há um ponto luminosi praticamente indizível, quase ilegível a nossos olhos, onde o encontro de imagens do filho com o pai se estabelece proporcionalmente como divisor de águas igualitário, aqui interessa mais o devir que os rostos provocam, por outra parte, tão historicamente fotográfico (lembrando a pioneira sequência de movimentos de Eadweard Muybridge); pois o que se enfatiza é o deslocamento que representa a identidade, aqui intervinda, feita espessura cromática (tão graficamente pop quanto neo expressionista em sua deriva e mapeamento zonal), e até certo ponto, convertida em frames de uma vida, foto-sequência que engana em seu movimento, pois cada unidade, cada olhar re-construído parece estar cada vez mais suspenso. Consequentemente, não estaríamos aqui naquela dinâmica visual em que forma e fundo se confundem, trocam suas superfícies ou camadas? Através de ressonâncias morfológicas primeiro escutadas, depois reveladas, chega-se a um processo de decantamento estético em que o jogo da ausência e da presença confundem-se: assim como a imagem reconhece a superfície também delata o fundo. Ou como diz Jean Luc Nancy: “a figura modela uma identidade, a imagem deseja a alteridade”. Porque neste singular trabalho imagético de Julio Castro acontece que as identidades jogam a nomear-se de outra forma entre elas, via um retrato duplo e único, espelhamento ambivalente e ambíguo do artista e seu pai, como corresponde à construção de um retrato alegórico que fala de maneira simétrica, e assimetricamente, da face como território de exploração; ou então de um lugar imaginário que é também deslugar existencial, como pertinência e afastamento, memória e esquecimento. E leia-se portanto como esse equilíbrio instável que a vida presenteia e a arte reconhece como seu, ampliando-o, colocando-lhe voz. Daí esse ar de lambe-lambe, de affiche de erosão do tempo - avec les temps cantava Léo Ferré - que se junta às intervenções do artista, à soma de ruídos de fundo que é o tempo, em sua fricção entre cronos e kairós. A série, tão mutante e a sua vez a mesma, respira esse feitiço. E de tal característica metamórfica talvez provenha seu lado elegíaco - quase homenagem filio-paternal -, a atmosfera não só de memento mori, quanto de imagem que guarda outra imagem, imagética alegórica em suma, para divisar a alteridade em seus registros, sobretudo mais perto.
(Foz, junho de 2017)
Adolfo Montejo Navas
“O tempo passa quando a gente olha”
Philip Roth
No fundo, ninguém é absolutamente só, próprio, no sentido de ser ele mesmo, dono de si, e não se trata só de um eco ingênuo da teoria da evolução, senão da transformação, ou melhor, da metabolização da condição humana. Ou então da heteronímia, aquela maquinaria poética que pensou Fernando Pessoa para abrigar almas diferentes, para dar conta da diversidade do eu, de sua ficção. O trabalho identitário, portanto, faz parte cada vez mais da crise do sujeito do século XX e XXI, da cisão ontológica e espiritual que nos divide cotidianamente. De qualquer forma, sabemos que a arte e a pintura, historicamente, desenhariam suas linhas de atuação no território do autorretrato e nesse limiar a fotografia, posteriormente, herdaria essa tradição e a ampliaria. Nesse contexto crítico, Julio Castro vem a trazer a confluência de todo o exposto, com o uso ampliado da gravura, fotografia, pintura, não necessariamente nesta ordem, já que importa muito menos a origem quanto o destino, ou então, o destino quanto origem. De fato, o seu trabalho é uma ars combinatória que mexe com várias instâncias, a linhagem e o anonimato, a serialização e a magia, a memória e a assombração. Assim como com o jogo de significados que abriga a palavra autorretrato em seu interior ou a passagem da imagem através dos suportes-registros. Em efeito, a ideia de cruzar o trânsito dos rostos em retrato 3 x 4 (inicial e canonicamente como documento portátil) do pai do artista e dele mesmo, ganha dimensões e densidade e não só reporta certo calafrio visual quanto produz uma pregnância conceitual, na qual o rosto - a parte mais simbólica e porosa do corpo - se transveste de outro tempo, mais concretamente do tempo do outro, ainda que seja tão próximo e familiar, fruto da relação de ascendência/descendência. A confluência de características afins e não afins produz seu paradoxo em movimento, pois estamos vendo um retrato de retratos, um auto-retrato centrípeto, que se abisma para dentro – implode como pede o gênero quando não é blasé ou uma questão supérflua. Não obstante, assim como há um ponto luminosi praticamente indizível, quase ilegível a nossos olhos, onde o encontro de imagens do filho com o pai se estabelece proporcionalmente como divisor de águas igualitário, aqui interessa mais o devir que os rostos provocam, por outra parte, tão historicamente fotográfico (lembrando a pioneira sequência de movimentos de Eadweard Muybridge); pois o que se enfatiza é o deslocamento que representa a identidade, aqui intervinda, feita espessura cromática (tão graficamente pop quanto neo expressionista em sua deriva e mapeamento zonal), e até certo ponto, convertida em frames de uma vida, foto-sequência que engana em seu movimento, pois cada unidade, cada olhar re-construído parece estar cada vez mais suspenso. Consequentemente, não estaríamos aqui naquela dinâmica visual em que forma e fundo se confundem, trocam suas superfícies ou camadas? Através de ressonâncias morfológicas primeiro escutadas, depois reveladas, chega-se a um processo de decantamento estético em que o jogo da ausência e da presença confundem-se: assim como a imagem reconhece a superfície também delata o fundo. Ou como diz Jean Luc Nancy: “a figura modela uma identidade, a imagem deseja a alteridade”. Porque neste singular trabalho imagético de Julio Castro acontece que as identidades jogam a nomear-se de outra forma entre elas, via um retrato duplo e único, espelhamento ambivalente e ambíguo do artista e seu pai, como corresponde à construção de um retrato alegórico que fala de maneira simétrica, e assimetricamente, da face como território de exploração; ou então de um lugar imaginário que é também deslugar existencial, como pertinência e afastamento, memória e esquecimento. E leia-se portanto como esse equilíbrio instável que a vida presenteia e a arte reconhece como seu, ampliando-o, colocando-lhe voz. Daí esse ar de lambe-lambe, de affiche de erosão do tempo - avec les temps cantava Léo Ferré - que se junta às intervenções do artista, à soma de ruídos de fundo que é o tempo, em sua fricção entre cronos e kairós. A série, tão mutante e a sua vez a mesma, respira esse feitiço. E de tal característica metamórfica talvez provenha seu lado elegíaco - quase homenagem filio-paternal -, a atmosfera não só de memento mori, quanto de imagem que guarda outra imagem, imagética alegórica em suma, para divisar a alteridade em seus registros, sobretudo mais perto.
(Foz, junho de 2017)