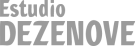|
Se, no ato mesmo da criação, Deus era a própria ação que engendrava as coisas tal as Ideias que as fazia aparecer, não existia na esfera divina defasagem entre essência e aparência. Do mesmo modo, Adão, imagem e semelhança de Deus, criatura em meio a todas as outras criadas, ao repetir o ato divino, lhes dava um Nome. Na linguagem edêmica, entre a coisa criada e a palavra que a nomeava, não residia nenhuma fissura por onde pudesse se infiltrar a arbitrariedade do signo. Em cada coisa o Nome vinha a Ser a perfeição do símbolo total que, em si, É. No plano decaído, pós pecado original, a palavra, reportando-se a uma estrutura interior da linguagem, corrompeu-se, deixando de Ser a coisa para refugiar-se no signo indireto que a representa. A cumplicidade entre o nome e a criatura retraiu-se para dentro da convenção das regras da gramática e da semântica, lá onde cada palavra isolada não é mais que fragmento, ruína de sua origem. Renascida no mundo secular, submissa à comunicação, o cerne de seu sentido degradou-se e junto com ele o das coisas que antes nomeava. Dependente da história e da cultura, entretidas na relação arbitrária que as governa, a palavra e a coisa perderam objetividade, tornando-se subservientes aos contextos e às interpretações. Em sua apropriação profana, cada palavra guarda, no entanto, o eco nostálgico e remoto daquilo que originalmente Era. A poesia – a arte – tenta inutilmente resgatar esse gesto fundante da Ideia, mas tudo são vestígios assombrados pela ilusão da criação demiúrgica. A subjetividade humana, enfim, triunfa e reina melancólica nos escombros. Os sussurros da origem, balbuciando um ruído tímido e inaudível de um paraíso para sempre perdido, são servis ao tempo e a experiência de cada um. Eis aqui o uso do conceito que emprestamos de Benjamin[i] para se pensar o alegórico: descontextualizado, cada um dos fragmentos, recombinado em uma colagem, busca sentido em solidariedade ao novo contexto. Tudo que resta são ruínas que, aplainadas no tempo plástico da obra, estão condenadas a reviver o eco de um passado lustroso e claro no eterno presente. Se assim é, na imitação frustrada do ato divino, tentando reencontrar a totalidade para sempre perdida, o alegorista se divide em duas partes humanas e incompletas. O arguto Duchamp já as havia compreendido: “... o coeficiente artístico pessoal é como uma aritmética entre o que permanece inexpresso embora intencionado e o que é expresso não-intencionalmente. [...] Resumindo, o ato criador não é executado pelo artista sozinho; o público estabelece o contato entre a obra de arte e mundo exterior, decifrando e interpretando suas qualidades intrínsecas e, desta forma, acrescenta sua contribuição ao ato criador.”[ii] Como demiurgo, o artista está condenado à subjetividade do outro. Reagrupando os fragmentos em suas colagens, o sentido intuído de cada elemento evoca inutilmente o sopro original que o fez Ser. Mas, no horizonte possível da linguagem, são os enunciados conceituais que de forma indireta representam e reagrupam os fenômenos e as coisas sem tocar jamais a objetividade das Ideias. Todo universal será, enfim, uma ilusão que o particular propicia. Essa exposição, portanto, é em si alegoria pensada pelo princípio da colagem. Cada obra aqui apresentada é um fragmento de subjetividade que se recombina a um outro, tentando compor uma totalidade sempre incompleta e fugidia. Pensar Alegórico. Luciano Vinhosa e Hélio Carvalho [i] Esse texto é uma livre interpretação do conceito de alegoria desenvolvido por Walter Benjamin em “A origem do drama barroco alemão” (São Paulo : Brasiliense, 1984) e de seus comentadores: Sérgio Paulo Rouanet (In: A origem do drama barroco alemão [Apresentação]. São Paulo : Brasiliense, 1984.) e Lauro Junkes (In: O processo de alegorização em Walter Benjamin. Anuário de Literatura 2, 1994, pp.125-135.) [ii] O ato criador. In: BATTCOCK, Gregory (1975). A nova arte. São Paulo : Perspectiva, p. 73 e 74. . |
Estudio Dezenove | Travessa do Oriente 16A , Santa Teresa, Rio de Janeiro - Brasil T. (55) (21) 2232 6572