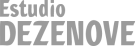|
Mais no menos (ou retratos no abismo)
Adolfo Montejo Navas Agora que somos quase ninguém, como diria a história pandêmica, talvez sejamos mais, mais no menos, e sejamos também mais outros. Re-equacionando tudo (distância, ausência, incorporação, encarnação), como um contraponto espiritual necessário, os novos trabalhos de Julio Castro se inscrevem nesse difícil diapasão que mede as distâncias de nossa subjetividade, ou então se circunscreve naquela famosa dobra deleuziana que fala tanto do sujeito quanto do outro ser interligado, chamado de social, próximo. Retratos de ninguém (2021) se aventura, como série cheia de variações e metamorfoses, na força descoberta do anonimato, do coletivo, essa matriz pública, neutra, magma identitário (e que, em outra dimensão, Por um fio (1977-2004) de Ana Vitória Mussi, vai a procurar também, quase como ressurreição imagética pela volta à origem, a um nascedouro visual). As imagens dos rostos em negativo, nesse obscuro que sempre promete a gravura – como sabia tanto Goeldi –, têm essa potência primigênia, pré-logos, de um antes, daí que o próprio jogo facial das máscaras não evite certo abismo ontológico, o que revela uma sintaxe artística antenada com nossa humanidade em crise, em perigo pela perversão da história e seus acidentes. Sintonia que explica as deformações pós-expressionistas ou a colagem pop (warholiana) resultante de um mundo contraditório. Uma configuração estética que estabelece assim vasos comunicantes numa mesma face, um certo mapa identitário nada genérico ou protocolar. E sim informal, fractal, rarefeito (tão inquietante ou grotesco quanto familiar ou humorístico). E que leva caminho já de ser um emblema temporal, epocal, porque traduz uma ferida viva, sem cicatrizar de nossa condição (tanto desdobramento quanto ocultamento), da necessidade de nos encontrar. Esse jogo de linguagem no qual estamos há séculos. Já o fato de que a técnica seja tão híbrida (gravura em metal, água tinta, água forte, monotipia e tinta spray), misturando assim valências de culturas opostas, coloca ainda mais os rostos oferecidos em tensão como ícones tão pré-históricos, ou sem tempo, quanto próximos, contemporâneos. Obra plural por definição, habitada de gente, que parece emergir de um fundo matricial, genésico (acontecia com a figuração transcendental e física de Francis Bacon) e que se religa com outra anterior do artista, fazendo um díptico impensável e totalmente coerente, quase lógico, consequência. E novamente histórico. Porque aqueles retratos-mutantes do pai do artista habitado com ele próprio (Passagem, 2017), faziam vibrar algo mais que a genealogia sanguínea, hereditária ou um conhecido território, acotado ou narcisista, eles já estavam no caminho de uma pesquisa maior, que envolvia umas coordenadas e reverberações mais generosas, as que Retratos de ninguém elaboram em um mergulho retratístico misterioso, desvelando tanto quanto ocultando a razão de um ser coletivo cujo devir está em processo, como comunidade que vem (que diria Agamben), que vive de ajustar um litígio maior que a sua representação. Ou uma heteronímia a considerar. setembro/2021 |
Estudio Dezenove | Travessa do Oriente 16A , Santa Teresa, Rio de Janeiro - Brasil T. (55) (21) 2232 6572