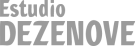Adolfo Montejo Navas
- AO AQVI
sobre exposição de Suely Farhi | novembro de 2019
- "Sitiações"
sobre vitrine de Celina Almeida Neves | setembro de 2016
- "Nota de bolso para Estudio Dezenove"
para o cartaz da exposição "Estudio Dezenove Ocupa Arte&Fato" | julho de 2016
- "Uma poética Angular"
sobre a exposição de Lula Wanderley | agosto de 2015
- "5 comentários a Relax"
sobre vitrine de Victor Arruda | março de 2013
- "Continuum"
sobre vitrine de Adriana Tabalipa e Roderick Steel | setembro de 2013
Ana Zavadil
> "Abordagens e sentidos: a pintura como possibilidade poética"
sobre a exposição com obras de Ana Mähler, Angela Zaffari, Bianca Santini, Marlene Kozicz, Ricardo Giuliani, Silvia Rodrigues, Verlu Macke | novembro de 2015
Beatriz Pimenta
> "Como ser civilizado"
sobre a exposição coletiva com obras de Ana Miramar, Bia Martins, Jandir Jr., Max Olivete, Mônica Coster, Nicolas Dantas, Soda Aw e Victor Saverio | março de 2015
> "Corpos sem ossos"
sobre a exposição coletiva com obras de Beatriz Pimenta, Noémie Goldberg, Carlos Eduardo Borges e Marcelo Brantes | maio de 2013
Beatriz Pimenta
> "Como ser civilizado"
sobre a exposição coletiva com obras de Ana Miramar, Bia Martins, Jandir Jr., Max Olivete, Mônica Coster, Nicolas Dantas, Soda Aw e Victor Saverio | março de 2015
> "Corpos sem ossos"
sobre a exposição coletiva com obras de Beatriz Pimenta, Noémie Goldberg, Carlos Eduardo Borges e Marcelo Brantes | maio de 2013
Fabiana Éboli Santos
> "A Pulsação do Cristal"
sobre a vitrine de Alexandre Dacosta
> "Captação de ritmos"
sobre a exposição "Equatorial" de Diô Viana | novembro de 2014
> "Agregados"
sobre a exposição e catálogo de Julio Castro | novembro de 2012
> "Naquele tempo agora - na Vitrine Efêmera - que passou"
sobre a vitrine de Adolfo Montejo Navas | outubro de 2012
> "André Sheik dentro do cérebro"
sobre a vitrine de André Sheik | agosto de 2012
Michaela Blanc
> "Área de Transferência"
sobre vitrine de Denise Cathilina | agosto de 2017
> "Investigações Gráficas" em parceria com Fernanda Pequeno
sobre a exposição com obras de Daniela Antonelli, Gabriela Mureb, Mariana Katona, Mirela Luz, Olívio Neto, Pablo Duarte, Viviane Teixeira
Gustavo Coelho
> "Metrópole Umedecida"
sobre a exposição com obras de Luiza Stavalle, Luiza Cascon e Julio Ferretti | agosto de 2011
Julio Castro & Sergio Viveiros
- "Brasil_México - notas de um intercâmbio"
sobre a exposição de Beatriz Pimenta, Darío Ramírez e Mónica Contreras | junho de 2015
- "As redes são um fato"
para o catálogo da mostra "Abordagens e sentidos: a pintura como possibilidade poética" | novembro de 2015
Luciano Vinhosa
- "Pensar Alegórico" (texto e curadoria em parceria com Helio Carvalho)
sobre exposição coletiva com obras de Felipe Ferreira, Gabriela Bandeira, Julia Arbex, Juliana Sodré, Rodrigo D'Acântara, Vinícius Rosa | março de 2017
- "Deus é Filtro"
sobre a exposição de Marcelo Brantes | maio de 2012
Mário Röhnelt
- para a exposição "O Sonho do Dragão" de Carlos Wladimirsky | agosto de 2012
fragmento do texto original publicado no livro "Carlos Wladimirsky - Os Desenhos" (Porto Alegre, 2009)
Newton Goto
> sobre a vitrine de Marssares
Osvaldo Carvalho
> Série Monocromos 02 nº 4 – a grande pausa
sobre a vitrine de Bet Katona | junho de 2015
- "Arte por acaso"
sobre a vitrine de Antonio Bokel | outubro de 2014
- "Espelho, espelho meu - breves especulações acerca da arte"
sobre a vitrine de Marcio Zardo | maio de 2014
- "O Arquiteto do Óbvio e do Ambíguo ou na ausência do primeiro preencha com o segundo"
sobre vitrine de Rommulo Vieira Conceição | novembro de 2013
- "Diante da Montanha"
para a exposição e catálogo Agregados de Julio Castro | novembro de 2012
- "De Barbara Stanwyck a Kátia Flávia - O afeto pela indiferença"
sobre a vitrine de Monica Barki | junho de 2012
- "E Tudo Flui"
sobre a vitrine de Leo Ayres | abril de 2012
- "Ausências"
sobre a vitrine de Gê Orthof | março de 2012
- "Palavras Cruzadas"
sobre a exposição Palavras Cruzadas | março de 2012
- "Funções equivalentes e o mito da serpente"
sobre vitrine de Claudia Hersz | novembro de 2011
- "Entre a realidade e a ficção"
sobre vitrine de Pedro Paulo Domingues | julho de 2011
- "No meio da vitrine tinha uma coluna"
sobre vitrine de Juliana Kase | abril de 2011
- "Efêmeros/Passantes"
sobre vitrine de Luciano Zanette | outubro de 2010
- "Alegoria Inquieta"
sobre vitrine de Frederico Dalton | setembro de 2010
- "Por Acaso, Veronika"
sobre vitrine do coletivo Filé de Peixe | agosto de 2010
Raphael Fonseca
- "Temporão"
sobre a exposição individual de Nena Balthar | setembro de 2013
Roberto Corrêa dos Santos
"ROMELEX: MUDANDO O SEU TEMPO"
sobre a vitrine de Rubens Pileggi | julho de 2013
Rubens Pileggi Sá
- "Práticas da Passagem"
sobre sua exposição | setembro de 2019
- "A pintura de Marcos Acosta segundo a invenção de Morel"
sobre a exposição "Saudades do Futuro" de Marcos Acosta | junho de 2016
- "A matemática das explosões"
sobre a exposição coletiva com obras de Juliano Guilherme, Marcos Acosta e Otavio Avancini | julho de 2013
- "Entre extremos"
sobre a exposição e álbum "Procura-se" de Magliani | julho de 2012
- "Experiência Múltipla"
para o álbum do projeto | junho de 2010
Wilton Montenegro
- "Inventar o outro" [ notas para o futuro ]
sobre exposição coletiva com obras de André Sheik, Brenda Cristina, Brenno de Castro, Daniela Alves, João de Albuquerque, Jonatas Martin Puga, Nanna Possa, Verena Kael, Yago Toscano | setembro de 2016
Yago Toscano
- "Já não pesa mais que o ar"
sobre a exposição coletiva com obras de Ayla Tavares, Bianca Madruga, Fernanda Mafra, João Paulo Racy, Jorge Menna Barreto, Matheus Simões, Nathan Braga, Veronica Peixoto
Corpos sem ossos
O que vejo em comum na atual produção de quatro artistas independentes é um processo de dissolução do eu. De uma geração ainda regida por crenças modernistas fundamentadas em bipolaridades e relações de causa e efeito, como as de artista/marchand, galeria de arte/crítica de arte, obra/público, sujeito/objeto, pouco a pouco passamos a atuar em sistemas que operam a semelhança de um rizoma[1], cujas funções de artista, crítica, produção e circulação de trabalhos são agenciadas em coletivos de artistas, que não ficam mais individualmente a espera de um reconhecimento institucional.
Carlos Borges trabalha a partir de enunciados linguísticos. Uma bola oca, com a superfície constituída por múltiplos pares de meia enrolados, expressa poeticamente a ideia de que existem muitos chutes para que apenas um chegue ao gol. Múltiplos bilhetes de jogo do bicho fixados em redes de pesca formam imagens difusas, pixeladas, como as de uma multidão sem um rosto definido. Os que apostam na sorte imitam uns aos outros, no sentido que acreditam na possibilidade de se tornarem vencedores, mesmo que seja através da projeção no outro. Borges costuma tratar a subjetividade a partir de um significante genérico, assim ele convida diferentes mulheres a falarem a palavra “caralho” diante de uma câmera de vídeo, palavra que para além da conotação sexual é um jargão bastante popular, que pode significar tanto algo muito bom como algo terrível.
Marcelo Brantes faz colagens compostas por fragmentos de caixas de fósforos, riscadores remontam o símbolo Pinheiro da marca Fiat Lux, segmentos lineares formam gráficos que marcam pulsões entre movimento e repouso. O tronco de uma árvore sobre uma maca de ferro, como um corpo de membros amputados, parece traduzir a falência da bipolaridade entre natureza e cultura. Espinhos em vidros e fixos a um quadro são como pinceladas de gestos incisivos. Num fragmento de vídeo, Brantes risca um fósforo no escuro, registra sua imagem sob luz instável, amarelada, que revela sua fisionomia num instante determinado pela duração da chama. Riscar fósforos são tentativas de acerto que comportam a possibilidade de erro, fósforos que acendem e apagam são estrelas de curtíssima duração, a vida é multiplicidade infinita de luzes oscilantes.
Num canto da sala, Noémie Goldberg dispõe espelhos contrapostos nas paredes e no chão que disparam um jogo de reflexos de multiplicação infinita. Os pontos, linhas e formas que insere nesse espaço são fragmentos de símbolos que já não transmitem significados específicos, mas um sentido imanente a todas as coisas que circulam pelo mundo. Dentro de sua instalação, em ambiente exíguo, nos sentimos dentro de um mundo no qual as linhas não se fecham, geometria caótica que modifica o espaço onde se instaura envolvendo a imagem de nossos corpos em suas tramas.
No meu trabalho com fotografia, objeto e vídeo combino imagens que desestabilizam a memória. Como nos sonhos: a cabeça que repousa sobre o travesseiro funde imagens através de teclas de computador; a mesa de superfície vazada apresenta imagens fotográficas superpostas, que cambiam seus planos sobre a luz do abajur que oscila entre matizes de cor. A mesma estratégia de superposição entre planos é utilizada numa vídeo instalação, na qual um vídeo central é projetado à frente sobre uma tela branca, emoldurada por outro plano de vídeo que se projeta sobre móveis, ferramentas, paredes e trabalhos de outros artistas do Estudio Dezenove. Em Só a arte nos une o almoço na relva de Manet é encenado com animação pelos amigos artistas, em O dia começa e acaba em Santa Teresa, diferentes locais da cidade são vistos através de antigas fachadas do bairro.
Produto de parcerias das mais diversas naturezas, os trabalhos dessa exposição parecem livres para prosseguir em qualquer direção. Como corpos sem ossos de suportes maleáveis ou modulares, tendem a incorporar a forma dos espaços onde temporariamente se encontram.
Beatriz Pimenta Velloso
[1] Deleuze, Gilles e Guattari, Félix. Mil Platôs, São Paulo: 34, 2011. Rizoma, segundo os autores é um sistema de reprodução que opera por contagio em ambientes que podem ser temporariamente compartilhados por diferentes espécies, classes sociais, grupos étnicos ou de gênero, permitindo formas de hibridismo que vão da genética à doença, da natureza à cultura.
O que vejo em comum na atual produção de quatro artistas independentes é um processo de dissolução do eu. De uma geração ainda regida por crenças modernistas fundamentadas em bipolaridades e relações de causa e efeito, como as de artista/marchand, galeria de arte/crítica de arte, obra/público, sujeito/objeto, pouco a pouco passamos a atuar em sistemas que operam a semelhança de um rizoma[1], cujas funções de artista, crítica, produção e circulação de trabalhos são agenciadas em coletivos de artistas, que não ficam mais individualmente a espera de um reconhecimento institucional.
Carlos Borges trabalha a partir de enunciados linguísticos. Uma bola oca, com a superfície constituída por múltiplos pares de meia enrolados, expressa poeticamente a ideia de que existem muitos chutes para que apenas um chegue ao gol. Múltiplos bilhetes de jogo do bicho fixados em redes de pesca formam imagens difusas, pixeladas, como as de uma multidão sem um rosto definido. Os que apostam na sorte imitam uns aos outros, no sentido que acreditam na possibilidade de se tornarem vencedores, mesmo que seja através da projeção no outro. Borges costuma tratar a subjetividade a partir de um significante genérico, assim ele convida diferentes mulheres a falarem a palavra “caralho” diante de uma câmera de vídeo, palavra que para além da conotação sexual é um jargão bastante popular, que pode significar tanto algo muito bom como algo terrível.
Marcelo Brantes faz colagens compostas por fragmentos de caixas de fósforos, riscadores remontam o símbolo Pinheiro da marca Fiat Lux, segmentos lineares formam gráficos que marcam pulsões entre movimento e repouso. O tronco de uma árvore sobre uma maca de ferro, como um corpo de membros amputados, parece traduzir a falência da bipolaridade entre natureza e cultura. Espinhos em vidros e fixos a um quadro são como pinceladas de gestos incisivos. Num fragmento de vídeo, Brantes risca um fósforo no escuro, registra sua imagem sob luz instável, amarelada, que revela sua fisionomia num instante determinado pela duração da chama. Riscar fósforos são tentativas de acerto que comportam a possibilidade de erro, fósforos que acendem e apagam são estrelas de curtíssima duração, a vida é multiplicidade infinita de luzes oscilantes.
Num canto da sala, Noémie Goldberg dispõe espelhos contrapostos nas paredes e no chão que disparam um jogo de reflexos de multiplicação infinita. Os pontos, linhas e formas que insere nesse espaço são fragmentos de símbolos que já não transmitem significados específicos, mas um sentido imanente a todas as coisas que circulam pelo mundo. Dentro de sua instalação, em ambiente exíguo, nos sentimos dentro de um mundo no qual as linhas não se fecham, geometria caótica que modifica o espaço onde se instaura envolvendo a imagem de nossos corpos em suas tramas.
No meu trabalho com fotografia, objeto e vídeo combino imagens que desestabilizam a memória. Como nos sonhos: a cabeça que repousa sobre o travesseiro funde imagens através de teclas de computador; a mesa de superfície vazada apresenta imagens fotográficas superpostas, que cambiam seus planos sobre a luz do abajur que oscila entre matizes de cor. A mesma estratégia de superposição entre planos é utilizada numa vídeo instalação, na qual um vídeo central é projetado à frente sobre uma tela branca, emoldurada por outro plano de vídeo que se projeta sobre móveis, ferramentas, paredes e trabalhos de outros artistas do Estudio Dezenove. Em Só a arte nos une o almoço na relva de Manet é encenado com animação pelos amigos artistas, em O dia começa e acaba em Santa Teresa, diferentes locais da cidade são vistos através de antigas fachadas do bairro.
Produto de parcerias das mais diversas naturezas, os trabalhos dessa exposição parecem livres para prosseguir em qualquer direção. Como corpos sem ossos de suportes maleáveis ou modulares, tendem a incorporar a forma dos espaços onde temporariamente se encontram.
Beatriz Pimenta Velloso
[1] Deleuze, Gilles e Guattari, Félix. Mil Platôs, São Paulo: 34, 2011. Rizoma, segundo os autores é um sistema de reprodução que opera por contagio em ambientes que podem ser temporariamente compartilhados por diferentes espécies, classes sociais, grupos étnicos ou de gênero, permitindo formas de hibridismo que vão da genética à doença, da natureza à cultura.
Diante da Montanha
Entre os grandes desafetos dos deuses gregos encontramos um em especial conhecido pela sua fama de driblar a morte e retornar ao mundo dos vivos, pelo que foi condenado a realizar um árduo trabalho que consistia em empurrar uma pedra montanha acima que, tão logo para lá era conduzida, rolava montanha abaixo. Essa rotina se repetia infinitamente. Tratava-se de um castigo para lembrar ao homem, reles mortal, da sua condição voltada ao pequeno mundo de sua vida cotidiana.
Tal e qual Sísifo, nosso pseudo-herói, Julio Castro engendra suas ações nessa série de trabalhos intitulada Agregados o seu rolar de pedras particular em que vai aparando arestas sem, contudo, dar-se por concluído seu gesto de repetição e acumulação. A cada nova montagem que realiza extrai de suas matrizes outro fôlego daquilo que poderia nos parecer exaurido e nos surpreende com a determinação de quem não esmorece diante da montanha. Ao contrário, ressalta percepções que se mostram inesgotáveis, possibilidades que só o tempo pode projetar sobre a fatura do verdadeiro artista. E nessa construção anti-monotonia está a façanha maior de seu projeto de intrínseca disciplina: resistir aos apelos do contraditório e retificar cada demão com a segura camada de confiança de quem sabe aonde quer chegar. Em umasucessão de formas e cores muito próximas umas das outras é que nos deparamos com a poética vigorosa centrada então no arranjo que aquelas recebem do artista. Vemos uma profusão genuína de novos símbolos gráficos que, em um diálogo aberto com a teoria do símbolo de Edgar Morin, marcam distinções e conexões sobre a representação do que está além da realidade percebida ou memorizada.
Essa força irresistível que move o artista é o que se procura enxergar diante de uma obra de arte. No caso de Julio Castro percebemos antes seu imaginário que sua técnica, ressaltando seus indícios de trajetória apenas os elementos constitutivos do seu trabalho. Ele nos faz refletir sobre a condição de cada um de nós diante das intempéries em que podemos escolher entre ser a mão que move a pedra ou simplesmente a pedra que rola sem destino.
Osvaldo Carvalho
Entre os grandes desafetos dos deuses gregos encontramos um em especial conhecido pela sua fama de driblar a morte e retornar ao mundo dos vivos, pelo que foi condenado a realizar um árduo trabalho que consistia em empurrar uma pedra montanha acima que, tão logo para lá era conduzida, rolava montanha abaixo. Essa rotina se repetia infinitamente. Tratava-se de um castigo para lembrar ao homem, reles mortal, da sua condição voltada ao pequeno mundo de sua vida cotidiana.
Tal e qual Sísifo, nosso pseudo-herói, Julio Castro engendra suas ações nessa série de trabalhos intitulada Agregados o seu rolar de pedras particular em que vai aparando arestas sem, contudo, dar-se por concluído seu gesto de repetição e acumulação. A cada nova montagem que realiza extrai de suas matrizes outro fôlego daquilo que poderia nos parecer exaurido e nos surpreende com a determinação de quem não esmorece diante da montanha. Ao contrário, ressalta percepções que se mostram inesgotáveis, possibilidades que só o tempo pode projetar sobre a fatura do verdadeiro artista. E nessa construção anti-monotonia está a façanha maior de seu projeto de intrínseca disciplina: resistir aos apelos do contraditório e retificar cada demão com a segura camada de confiança de quem sabe aonde quer chegar. Em umasucessão de formas e cores muito próximas umas das outras é que nos deparamos com a poética vigorosa centrada então no arranjo que aquelas recebem do artista. Vemos uma profusão genuína de novos símbolos gráficos que, em um diálogo aberto com a teoria do símbolo de Edgar Morin, marcam distinções e conexões sobre a representação do que está além da realidade percebida ou memorizada.
Essa força irresistível que move o artista é o que se procura enxergar diante de uma obra de arte. No caso de Julio Castro percebemos antes seu imaginário que sua técnica, ressaltando seus indícios de trajetória apenas os elementos constitutivos do seu trabalho. Ele nos faz refletir sobre a condição de cada um de nós diante das intempéries em que podemos escolher entre ser a mão que move a pedra ou simplesmente a pedra que rola sem destino.
Osvaldo Carvalho
Agregados
O conjunto de obras aqui apresentado surge de um processo de trabalho no qual Julio Castro partiu do desenho e associou a monotipia para aproximar-se da pintura. Em seus desenhos iniciais, formas orgânicas – as mesmas
“formas-frutos”presentes nesta série – articulam-se a outras, geométricas de caráter “mecânico”,gerando imagens de oposição visual que transmitem a sensação de movimento bloqueado, interrompido.
No desenvolvimento da pesquisa, o artista opta por libertar o movimento: elimina o fator mecânico e multiplica o orgânico, operando pela monotipia numa abordagem pessoal, autoral, que o situa no campo dos procedimentos da pintura.
A composição da imagem se dá num processo de impressões sucessivas sobre um mesmo e único suporte – papel ou voil – onde este perde a neutralidade na primeira impressão e, nas impressões seguintes, passa a funcionar como fonte de informação para novas transformações. Matrizes das diferentes “formas-frutos”são transferidas numa organização mutável, em que a ocupação do plano vai se dando por encaixes, deslocamentos de posição, construção de camadas, gerando o corpo do trabalho – um “corpo-cor”. Cada impressão incorpora os resíduos da anterior, a sobreposição das camadas de tinta vai transformando o plano numa matéria real, volumétrica, onde os espaços vazios colaboram para a sensação de corporeidade da imagem. As sucessivas reimpressões levam ao extremo a operação de gravar, rompendo com a lógica da gravura e instaurando um espaço [como o] pictórico.
Neste contínuo acréscimo de informação de formas e cores ao conjunto, o artista coloca em movimento um jogo de repetição, diferença e multiplicação em escala, que o leva também ao limite do esforço físico. Uma relação com o corpo que atinge o observador através do movimento inscrito na obra, cuja sensação de que as formas “circulam” e “saltam” para o espaço tridimensional como que confirma a aspiração da pintura de recriar o espaço real. Tanto no sentido do crescimento vertical e horizontal do trabalho, quanto na constituição da transparência através do voil que confunde a percepção dos espaços vazios da obra com o espaço ambiente, há uma busca de superar a escala humana em direção
ao espaço/tempo real e ilimitado que o corpo não abarca.
Fabiana Éboli Santos
O conjunto de obras aqui apresentado surge de um processo de trabalho no qual Julio Castro partiu do desenho e associou a monotipia para aproximar-se da pintura. Em seus desenhos iniciais, formas orgânicas – as mesmas
“formas-frutos”presentes nesta série – articulam-se a outras, geométricas de caráter “mecânico”,gerando imagens de oposição visual que transmitem a sensação de movimento bloqueado, interrompido.
No desenvolvimento da pesquisa, o artista opta por libertar o movimento: elimina o fator mecânico e multiplica o orgânico, operando pela monotipia numa abordagem pessoal, autoral, que o situa no campo dos procedimentos da pintura.
A composição da imagem se dá num processo de impressões sucessivas sobre um mesmo e único suporte – papel ou voil – onde este perde a neutralidade na primeira impressão e, nas impressões seguintes, passa a funcionar como fonte de informação para novas transformações. Matrizes das diferentes “formas-frutos”são transferidas numa organização mutável, em que a ocupação do plano vai se dando por encaixes, deslocamentos de posição, construção de camadas, gerando o corpo do trabalho – um “corpo-cor”. Cada impressão incorpora os resíduos da anterior, a sobreposição das camadas de tinta vai transformando o plano numa matéria real, volumétrica, onde os espaços vazios colaboram para a sensação de corporeidade da imagem. As sucessivas reimpressões levam ao extremo a operação de gravar, rompendo com a lógica da gravura e instaurando um espaço [como o] pictórico.
Neste contínuo acréscimo de informação de formas e cores ao conjunto, o artista coloca em movimento um jogo de repetição, diferença e multiplicação em escala, que o leva também ao limite do esforço físico. Uma relação com o corpo que atinge o observador através do movimento inscrito na obra, cuja sensação de que as formas “circulam” e “saltam” para o espaço tridimensional como que confirma a aspiração da pintura de recriar o espaço real. Tanto no sentido do crescimento vertical e horizontal do trabalho, quanto na constituição da transparência através do voil que confunde a percepção dos espaços vazios da obra com o espaço ambiente, há uma busca de superar a escala humana em direção
ao espaço/tempo real e ilimitado que o corpo não abarca.
Fabiana Éboli Santos
Os espaços e o silêncio (fragmento)
Ao longo de 30 anos de produção artística a obra desenhada de Wladimirsky tem revelado um consistente poder de atrair o nosso olhar. Ao compreendermos seu caráter reflexivo, certo silêncio se impõe, é uma obra capaz de agenciar configurações de cores, formas e signos que despertam nossa inclinação ao afeto com as coisas do mundo. Há um misto de delicadeza e elegância no trato do real e isto nos sugere a aceitação otimista das contingências humanas. Todos os elementos geométricos são contraditoriamente imprecisos, em toda sugestão de construção há algum tipo de desequilíbrio ou assimetria onde se esperaria o contrário. A leveza do seu olhar sobre coisas mínimas opõe-se àquele sobre grandes estruturas. Podemos entender nisso uma política.
Ao otimismo depositado na abstração geométrica Wladimirsky opõe um olhar cauteloso, um tanto cético - daí as imprecisões de suas geometrias. Elas são uma afirmação inequívoca da falibilidade das coisas humanas. O princípio de instabilidade existencial é compensado, no entanto por sua obra ser também uma afirmação da poética das coisas do mundo. A organização dos elementos, as texturas, as relações dos personagens plásticos estão impregnados das nossas experiências com a diversidade natural. Como não ver nesses desenhos a remissão às texturas dos mais diversos minerais, dos troncos das árvores, dos materiais oxidados, das terras, da superfície das conchas, dos céus noturnos, do fogo, do carvão e da água? A cada centímetro o mundo natural é agenciado e transfigurado, as marcas do artesanal reforçam mais o poder natural da mão do que dos instrumentos, sobre materiais específicos Wladimirsky instrumentaliza o que está no seu alcance imediato, mãos e olhos, por estas características sua obra é sensivelmente permeada por uma íntegra concepção de estar-se no mundo.
Mário Röhnelt
Ao longo de 30 anos de produção artística a obra desenhada de Wladimirsky tem revelado um consistente poder de atrair o nosso olhar. Ao compreendermos seu caráter reflexivo, certo silêncio se impõe, é uma obra capaz de agenciar configurações de cores, formas e signos que despertam nossa inclinação ao afeto com as coisas do mundo. Há um misto de delicadeza e elegância no trato do real e isto nos sugere a aceitação otimista das contingências humanas. Todos os elementos geométricos são contraditoriamente imprecisos, em toda sugestão de construção há algum tipo de desequilíbrio ou assimetria onde se esperaria o contrário. A leveza do seu olhar sobre coisas mínimas opõe-se àquele sobre grandes estruturas. Podemos entender nisso uma política.
Ao otimismo depositado na abstração geométrica Wladimirsky opõe um olhar cauteloso, um tanto cético - daí as imprecisões de suas geometrias. Elas são uma afirmação inequívoca da falibilidade das coisas humanas. O princípio de instabilidade existencial é compensado, no entanto por sua obra ser também uma afirmação da poética das coisas do mundo. A organização dos elementos, as texturas, as relações dos personagens plásticos estão impregnados das nossas experiências com a diversidade natural. Como não ver nesses desenhos a remissão às texturas dos mais diversos minerais, dos troncos das árvores, dos materiais oxidados, das terras, da superfície das conchas, dos céus noturnos, do fogo, do carvão e da água? A cada centímetro o mundo natural é agenciado e transfigurado, as marcas do artesanal reforçam mais o poder natural da mão do que dos instrumentos, sobre materiais específicos Wladimirsky instrumentaliza o que está no seu alcance imediato, mãos e olhos, por estas características sua obra é sensivelmente permeada por uma íntegra concepção de estar-se no mundo.
Mário Röhnelt
Metrópole Umedecida
Houve tempos recentes em que o concreto como material protagonista do erguimento das cidades era sinal de seu progresso que, tributário de sonhos pela concretude, baseou-se na fixidez para postular uma eternidade dependente da permanência das coisas. Diante, portanto, da inescapável fluidez do tempo que tende sempre à ruína das coisas, batalhamos na tentativa de solapar sua vocação tão destruidora quanto transformadora em prol de uma estabilidade bem ordenada, ligando intimamente a força de uma cidade à sua capacidade de manter-se, de representar via dureza, uma harmonia reinante. No entanto, houve sofrimento nesse processo, já que numa nítida preocupação com o por vir que nunca chega, a segurança deste futuro credível, dependeu de uma dura limitação das liberdades próprias do presente. Em todo caso, se ainda batalha-se para que o concreto escape à ruína de seu destino, parece que a metrópole comunicacional, pós-industrial, já recolocou em cena a exaltação do presente em sua inerente efemeridade do instante. Seja nas culturas juvenis contemporâneas, seja nessa nova metrópole que lhe serve de cenário, é a mobilidade que garante a vitalidade das coisas, enquanto que a fixidez ganha um tom de monotonia sonambular, ou melhor, adulta demais para ser viva. Digo com isso que sabemos mais sobre os cartazes, os lambe-lambes, os outdoors, os letreiros, as lojas que aparecem e desaparecem de uma hora para outra do que sobre estátuas que de tão permanentes, perderam boa parte de seus sentidos. Cristo pichado e re-iluminado a cada nova campanha, Drummond de óculos novos a cada nova semana, e assim a sociedade os atualiza, lhes atribuindo alguma dose da vitalidade de nosso tempo, doses generosas e casuais de impermanência.
Quando tomamos um ônibus numa auto estrada, raramente alguma coisa permanece por muito tempo à nossa vista. Contemplamos justamente a libertária e insegura velocidade. No entanto, feito ironia, a única coisa que se mantém, é a obviamente impermanente e nunca acabada nuvem. Nuvem paradoxalmente sempre de passagem, mas que diante de nós, parados ou em velocidade, teimosamente permanece como que grudada sobre a janela.
Alguns mais atemorizados com a liquidez desta efemeridade, acabam, na nostalgia de uma segurança que trabalhava por um mundo de poucos vocabulários conhecidos, atribuindo certa inutilidade e infertilidade ao nosso tempo de pluralidade ressurgente. Parece, no entanto, que há muito mais democracia em paredes que dia após dia exibem o desgaste de algumas comunicações e a exibição de outras, do que naquelas que comunicam a impossibilidade comunicativa em sua pintura bem feita. O desgaste como agente corrosivo que democraticamente impede alguém de reinar por muito tempo, fazendo da sua corrosão seu adubo, como flores que surgem de onde aparentemente nada havia sido plantado. Parece que o concreto seco de outrora, umedecido pela cola, pela tinta e pelo suor, ganhou de vez a fertilidade, antes monopólio do solo.
Umedecida, a metrópole regida agora mais pelo devir do aqui e agora do que pelo projetismo de algo civilizante que virá, abre caminho à exibição inconsequente de boa parte das potências comuns ao presente, mas que tiveram de ser controladas em nome de um futuro que não chegou. Tudo o que fora interditado e que passou a garantir sua permanência clandestina sob tabus, ganha força e encontra na metrópole contemporânea e no protagonismo das culturas juvenis seus amplificadores. Brigas agendadas das gangs de subúrbio, pegas de automóvel, pornografia generalizada, alternativas sexuais de todas as ordens, transmutação dos gêneros. É o explícito reclamando sua posição na composição do mundo há tempos monopolizada pela metáfora que, sob o charme de dizer sem dizer, mantinha a insipidez civilizada. No entanto, o explícito não é excludente e não nega a metáfora. Pelo contrário, a convida. Afinal, há sensualidade explícita mesmo no charme delicado de nossos pés descalços
É, a meu ver, então, esta balança raramente equilibrada entre a permanência/segurança/ordenação e a impermanência/liberdade/obscenidade das coisas urbanas que, pendendo hoje claramente para esse último lado, parece servir, em alguma medida, de fundo aos trabalhos de Luiza Cascon, Julio Ferretti e Luiza Stavale.
Gustavo Coelho
Houve tempos recentes em que o concreto como material protagonista do erguimento das cidades era sinal de seu progresso que, tributário de sonhos pela concretude, baseou-se na fixidez para postular uma eternidade dependente da permanência das coisas. Diante, portanto, da inescapável fluidez do tempo que tende sempre à ruína das coisas, batalhamos na tentativa de solapar sua vocação tão destruidora quanto transformadora em prol de uma estabilidade bem ordenada, ligando intimamente a força de uma cidade à sua capacidade de manter-se, de representar via dureza, uma harmonia reinante. No entanto, houve sofrimento nesse processo, já que numa nítida preocupação com o por vir que nunca chega, a segurança deste futuro credível, dependeu de uma dura limitação das liberdades próprias do presente. Em todo caso, se ainda batalha-se para que o concreto escape à ruína de seu destino, parece que a metrópole comunicacional, pós-industrial, já recolocou em cena a exaltação do presente em sua inerente efemeridade do instante. Seja nas culturas juvenis contemporâneas, seja nessa nova metrópole que lhe serve de cenário, é a mobilidade que garante a vitalidade das coisas, enquanto que a fixidez ganha um tom de monotonia sonambular, ou melhor, adulta demais para ser viva. Digo com isso que sabemos mais sobre os cartazes, os lambe-lambes, os outdoors, os letreiros, as lojas que aparecem e desaparecem de uma hora para outra do que sobre estátuas que de tão permanentes, perderam boa parte de seus sentidos. Cristo pichado e re-iluminado a cada nova campanha, Drummond de óculos novos a cada nova semana, e assim a sociedade os atualiza, lhes atribuindo alguma dose da vitalidade de nosso tempo, doses generosas e casuais de impermanência.
Quando tomamos um ônibus numa auto estrada, raramente alguma coisa permanece por muito tempo à nossa vista. Contemplamos justamente a libertária e insegura velocidade. No entanto, feito ironia, a única coisa que se mantém, é a obviamente impermanente e nunca acabada nuvem. Nuvem paradoxalmente sempre de passagem, mas que diante de nós, parados ou em velocidade, teimosamente permanece como que grudada sobre a janela.
Alguns mais atemorizados com a liquidez desta efemeridade, acabam, na nostalgia de uma segurança que trabalhava por um mundo de poucos vocabulários conhecidos, atribuindo certa inutilidade e infertilidade ao nosso tempo de pluralidade ressurgente. Parece, no entanto, que há muito mais democracia em paredes que dia após dia exibem o desgaste de algumas comunicações e a exibição de outras, do que naquelas que comunicam a impossibilidade comunicativa em sua pintura bem feita. O desgaste como agente corrosivo que democraticamente impede alguém de reinar por muito tempo, fazendo da sua corrosão seu adubo, como flores que surgem de onde aparentemente nada havia sido plantado. Parece que o concreto seco de outrora, umedecido pela cola, pela tinta e pelo suor, ganhou de vez a fertilidade, antes monopólio do solo.
Umedecida, a metrópole regida agora mais pelo devir do aqui e agora do que pelo projetismo de algo civilizante que virá, abre caminho à exibição inconsequente de boa parte das potências comuns ao presente, mas que tiveram de ser controladas em nome de um futuro que não chegou. Tudo o que fora interditado e que passou a garantir sua permanência clandestina sob tabus, ganha força e encontra na metrópole contemporânea e no protagonismo das culturas juvenis seus amplificadores. Brigas agendadas das gangs de subúrbio, pegas de automóvel, pornografia generalizada, alternativas sexuais de todas as ordens, transmutação dos gêneros. É o explícito reclamando sua posição na composição do mundo há tempos monopolizada pela metáfora que, sob o charme de dizer sem dizer, mantinha a insipidez civilizada. No entanto, o explícito não é excludente e não nega a metáfora. Pelo contrário, a convida. Afinal, há sensualidade explícita mesmo no charme delicado de nossos pés descalços
É, a meu ver, então, esta balança raramente equilibrada entre a permanência/segurança/ordenação e a impermanência/liberdade/obscenidade das coisas urbanas que, pendendo hoje claramente para esse último lado, parece servir, em alguma medida, de fundo aos trabalhos de Luiza Cascon, Julio Ferretti e Luiza Stavale.
Gustavo Coelho
Marcelo Brantes é um sobrevivente. Primeiro, do atentado de 11 de setembro, quando morava em Nova York e pôde viver de perto o drama que assombrou o ocidente. Depois, já de retorno ao Brasil, testemunhou a tragédia das chuvas e dos subseqüentes deslizamentos que em janeiro deste ano assolou a Região Serrana do Rio, particularmente Nova Friburgo, onde o artista mantém seu ateliê ou o que sobrou dele: a casa que vinha construindo como moradia e local de trabalho foi invadida pela enxurrada e, com ela, uma avalanche de lama. Enterrada parcialmente, transformou-se subitamente em uma ruína contemporânea. A mudança radical da paisagem deixou um rastro de desolamento, afetando todo seu entorno. Não seria estranho que uma obra nascida de tal provação pudesse sussurrar aos ouvidos um murmúrio surdo, um lamento, que secretamente nos fala da morte, dos processos de putrefação e, surpreendentemente, de seu contrário, da vida e de suas incansáveis estratégias de renascimento, filtragem e germinação — da arte como cura, enfim.
Marcado pela obsessão dos dias e das horas, pelos inúmeros cigarros fumados, o seu obrar revela a obstinação dos apaixonados. Secretamente nos fala do delicado equilíbrio em que consiste a beleza, do quanto é frágil respirar e manter o pulso das convicções enquanto se espera a própria vida, em forma de arte, renascer das cinzas de tantos cigarros fumados. Deles nada se perde, tudo se transforma em poesia; tudo se cria. Das cinzas apagadas e frias, pacientemente recolhidas em potes transparentes que, em seguida, são arranjados nas prateleiras de uma estante em aço, como as que vemos nos laboratório de mineralogia, Marcelo nos faz contemplar finíssimas camadas aveludadas que, variando do negro profundo ao prata brilhante, nos lembram amostras minerais recolhidas de substratos geológicos e que durante milênios foram se sedimentando em estruturas aluviais. As sedas queimadas e manchadas pelo marrom do tabaco, organizadas em tons e surtons, rearranjam-se em uma extensa superfície plana. Revelam manchas sutis que sugerem de relance as marcas de um corpo ou vapores de nuvens, poeira e fumaça, na profusão de uma explosão.
Em uma visita guiada, o artista nos conduz ao que sobrou de seu ateliê, ao que seria um salão. Sobre a parede de tijolos rústicos uma escultura/ instalação: um manto dependurado em um cabide, por sua vez fixado sobre uma superfície retangular e fria, cuja estrutura de metal, recoberta com placas de aço soldadas umas nas outras, contrastava com a delicadeza do tecido felpudo e macio: um feltro tramado em filtros de cigarros fumados durante a confecção da obra. Se o arejamento a que foi constantemente exposto já havia dissipado o cheiro forte, podíamos, no entanto, imaginar vivamente, e com certa náusea, o fedor que dele exalava anteriormente. Aquele manto — suave ao toque, repulsivo pelo material e pesado pelo caimento — lembrou-me uma carcaça desviscerada, a pele mole e lerda de um cordeiro com a qual os homens primitivos se aqueciam ou o sudário que nos conduziria através dos mundos. Há em seu fazer uma transformação que se opera entre a morte e a vida, um buraco negro que, sorvendo a poeira dissipada das estrelas, adensa-se em massa escura para explodir novamente em luz, matéria e energia.
Olhando agora ao redor — ao longe, as montanhas escalavradas pelas voçorocas das enxurradas e, mais próximo, o vale soterrado, o riacho arregaçado — vemos uma gramínea fina e leve, um tapete de um verde vivo e viçoso que insiste em brotar da terra revirada; pequenos arbustos remendando as fendas, os pássaros celebrando, depois de tudo, a regeneração da paisagem, o redesenho de uma nova geografia para a vida. No intervalo ínfimo de purificação, entre a destruição e a regeneração, entre o encher e o esvaziar-se dos alvéolos, a obra de Marcelo, me parece, encontra sua força poética — DEUS É FILTRO!
Luciano Vinhosa
Marcado pela obsessão dos dias e das horas, pelos inúmeros cigarros fumados, o seu obrar revela a obstinação dos apaixonados. Secretamente nos fala do delicado equilíbrio em que consiste a beleza, do quanto é frágil respirar e manter o pulso das convicções enquanto se espera a própria vida, em forma de arte, renascer das cinzas de tantos cigarros fumados. Deles nada se perde, tudo se transforma em poesia; tudo se cria. Das cinzas apagadas e frias, pacientemente recolhidas em potes transparentes que, em seguida, são arranjados nas prateleiras de uma estante em aço, como as que vemos nos laboratório de mineralogia, Marcelo nos faz contemplar finíssimas camadas aveludadas que, variando do negro profundo ao prata brilhante, nos lembram amostras minerais recolhidas de substratos geológicos e que durante milênios foram se sedimentando em estruturas aluviais. As sedas queimadas e manchadas pelo marrom do tabaco, organizadas em tons e surtons, rearranjam-se em uma extensa superfície plana. Revelam manchas sutis que sugerem de relance as marcas de um corpo ou vapores de nuvens, poeira e fumaça, na profusão de uma explosão.
Em uma visita guiada, o artista nos conduz ao que sobrou de seu ateliê, ao que seria um salão. Sobre a parede de tijolos rústicos uma escultura/ instalação: um manto dependurado em um cabide, por sua vez fixado sobre uma superfície retangular e fria, cuja estrutura de metal, recoberta com placas de aço soldadas umas nas outras, contrastava com a delicadeza do tecido felpudo e macio: um feltro tramado em filtros de cigarros fumados durante a confecção da obra. Se o arejamento a que foi constantemente exposto já havia dissipado o cheiro forte, podíamos, no entanto, imaginar vivamente, e com certa náusea, o fedor que dele exalava anteriormente. Aquele manto — suave ao toque, repulsivo pelo material e pesado pelo caimento — lembrou-me uma carcaça desviscerada, a pele mole e lerda de um cordeiro com a qual os homens primitivos se aqueciam ou o sudário que nos conduziria através dos mundos. Há em seu fazer uma transformação que se opera entre a morte e a vida, um buraco negro que, sorvendo a poeira dissipada das estrelas, adensa-se em massa escura para explodir novamente em luz, matéria e energia.
Olhando agora ao redor — ao longe, as montanhas escalavradas pelas voçorocas das enxurradas e, mais próximo, o vale soterrado, o riacho arregaçado — vemos uma gramínea fina e leve, um tapete de um verde vivo e viçoso que insiste em brotar da terra revirada; pequenos arbustos remendando as fendas, os pássaros celebrando, depois de tudo, a regeneração da paisagem, o redesenho de uma nova geografia para a vida. No intervalo ínfimo de purificação, entre a destruição e a regeneração, entre o encher e o esvaziar-se dos alvéolos, a obra de Marcelo, me parece, encontra sua força poética — DEUS É FILTRO!
Luciano Vinhosa